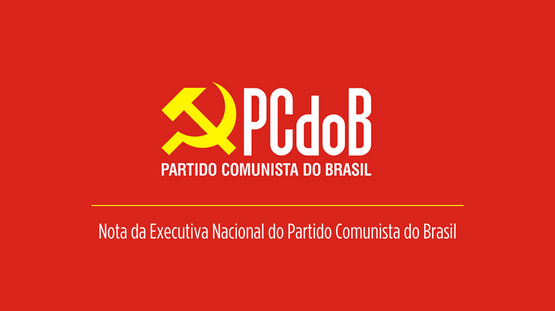PCdoB: Irã é soberano e deve resolver questões internas sem interferência dos EUA
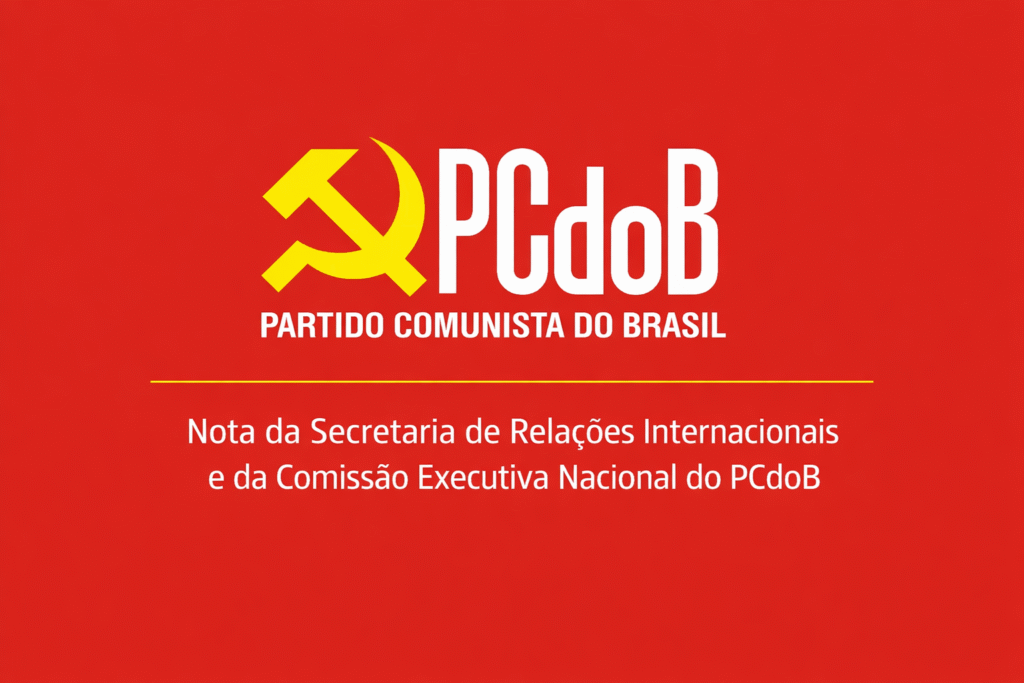
O Partido Comunista do Brasil acompanha com atenção os acontecimentos recentes no Irã, em especial os ataques, ameaças e a escalada de ingerência promovidos pelos Estados Unidos.
O povo iraniano tem direito à soberania e a resolver suas questões internas por meio de suas próprias instituições, sem interferência externa.
É falsa e cínica a alegação de Donald Trump de que os EUA buscam “salvar” o povo iraniano: o sofrimento econômico no país é resultado direto de décadas de sanções e embargos impostos por Washington.
O Irã enfrenta uma guerra econômica, midiática e militar, combinada com tentativas oportunistas de ressuscitar setores ligados à antiga monarquia dos Pahlavi, mais uma expressão de ingerência imperialista.
Os EUA não defendem a democracia ou a liberdade para o povo do Irã, o Governo Trump anuncia abertamente que o que eles querem são as riquezas das nações, o roubo descarado, por meio da guerra.
Sem soberania, não há democracia.
PCdoB contra o imperialismo e toda forma de intervenção.
Secretaria de Relações Internacionais e Comissão Executiva Nacional do PCdoB
Brasília, 14 de janeiro de 2026